Mitos, pessoas e animais formam o núcleo desse livro de Carlos Nejar. Sendo um escritor com acentuada consciência de seu tempo, não parece disposto a contaminar-se pelos postulados teóricos dos que falam de poesia em extinção. Portanto, não submisso ao profetismo hegeliano que no século XIX anunciou o fim da arte, tese frustrada por Baudelaire, ao dar-lhe adequada resposta teórica, não só em sua práxis poética, mas também em seus estudos de estética que lhe permitiram retirar do limbo os materiais e as formas fundadoras da poesia da modernidade.
No início do século XX, o pintor Piet Mondrian também fez previsões sobre o fim da arte, chegando a assinalar os motivos e a época em que ocorreria o seu desaparecimento, indo além do que fizera Hegel no século anterior. Deduz-se da trágica profecia de Mondrian, que ao desaparecer a arte, desapareceria também a figura do artista. Mas como viver o homem numa sociedade em que a arte não mais existisse? Tal é a pergunta que fazemos. Para Camus, o homem poderá viver sem a arte, mas não viveria bem. Mondrian não especulou muito sobre esse aspecto, mas sua afirmativa não quer dizer que a arte deixará de existir. O que ocorrerá é o término de uma atividade que sempre existira desde que o homem aparecera na terra. Isso quer dizer que a arte continuaria sua vida institucional, como fragmentos da história do espírito: no museu, na ópera, na biblioteca, onde todos poderiam ver esculturas de Fídias ou Michelangelo, quadros de Leonardo ou de Picasso, ouvir composições de Bach ou de Beethoven, ou ler poemas de Homero, Dante ou Shakespeare. Será que os homens do futuro ficariam satisfeitos em viver nesse estranho universo da “arte realizada”, tal como vivemos no meio da natureza?
Carlos Nejar, poeta que não demonstra nenhuma adoração aos ídolos da era técnica, resiste à ideia de que a arte, em particular a poesia, venha a desaparecer. As linguagens criadas pela cultura são monumentos, e os monumentos, ensina-nos Ernst Cassirer, costumam “durar”, pois não dependem de transmissibilidade hereditária. Daí acreditar — assim pensava Eliot — , que a cultura não se herda: conquista-se com muito esforço. E uma vez conquistada, não se deixa hipnotizar, como ocorre com largos segmentos das massas humanas, pela mídia sofisticada, repressiva, desidiosa que domina os modernos meios de comunicação, a serviço de interesses políticos e da economia de mercado.
Carlos Nejar publicou seus primeiros livros na década de 1960. Desde seu aparecimento, goza de sólida reputação nos meios intelectuais. O “fim” da arte possivelmente está presente aos movimentos de seu espírito, mas ele faz o quanto é possível, em seu relato épico-lírico, para anular nas obras que escreve aquilo a que Luc Ferry denomina as partes subjetivas da aparência. Thomas Mann, com rigor, exuberância e beleza, mostrou-nos a “tragédia da arte moderna”, em um de seus últimos grandes romances: o Doutor Fausto, denunciando-a como um trabalho do demônio. Tais denúncias dessas pessimistas visões sobre o futuro da arte contemporânea reforçam a confiança de Carlos Nejar na persistência da arte, através dos tempos, ao invés de aceitá-las como válidas, como fazem as vanguardas sibilinas e filistinas, sempre atentas em atrair à sua rede de mentiras e mistificações o leitor desprevenido.
Há um eco do profetismo hegeliano no pensamento de Mondrian. Para o pintor holandês, não estamos distante daquele momento em que a realização do puramente escultórico, na realidade, substituirá a obra de arte. Então não haverá necessidade de quadros. O que tinha de ser feito já o fizeram os pintores anteriores ao nosso tempo. Mondrian fala de uma “contra-natureza”, que será adotada e nela desaparecerá o artista. Assim, iremos viver em meio da arte realizada. Para Mondrian, essa contra-natureza será a construção elevada à “categoria de ídolo”. Tal contra-natureza será orientada — diz o pintor — pelo cientismo e pela técnica. Acredito que há um forte componente de ironia nas afirmações de Mondrian. Se assim for, Mondrian está do nosso lado. Mas, quando ele afirmou isso, podia estar a falar com toda a seriedade. A ironia só é ironia quando comporta elevados índices de ambiguidade. Não podemos duvidar de um artista teoricamente bem armado, quando ele diz que “a arte desaparecerá na medida em que a vida tenha mais equilíbrio, na medida simplesmente em que tenha adotado a nova ‘contra-natureza’, e nela desaparecido”. De qualquer forma — ironia ou não — se Mondrian assim fala, tendo em vista principalmente a pintura, então podemos estender sua profecia às demais artes, como, em relação à música, Thomas Mann fez o demônio demonstrar, com a mais rica erudição histórica e filosófica, ser contra as obras, em uma de suas conversas com Adrian Leverkühn.
O poeta de Os Viventes resiste à elástica simplicidade, dos que embora se julgando artistas, são incapazes de distinguir a arte da não-arte, o falso do verdadeiro. Carlos Drummond de Andrade, ao escrever sobre o livro de Nejar, por ocasião de seu aparecimento em 1979, afirmou que Os Viventes é uma criação onde o próprio Drummond sentia o calor existencial, “é obra que, sucedendo ao canto, anterior, e antecipando o canto que continuará extraindo de sua mina poética, nos dá um belo exemplo de permanência e invenção contínua”, escreveu o autor de O sentimento do mundo ao proclamar a importância desse livro.
Os Viventes se dividem em oito partes, a começar com o “Anel do vento” e terminando com “O livro das bestas.” Entre essa coordenada bipolar estão os grandes poemas bíblicos, os profetas, Moisés, Lázaro, os pequenos e os grandes do Velho e do Novo Testamento. No canto inicial, se lê que nos Viventes tudo é julgado, ou é julgamento in progress.
Viventes o que sabeis
— que mundo o poema! — ?
Em sua terra
nada se queima.
Viventes o que sabeis
da morte e o resto
se nem sabemos de nós
no anel do vento?
Como diria o Dr. Richards, na poesia de Nejar podemos observar um conjunto de aspectos dos quais “participam não só os acontecimentos mentais, mas também todos os acontecimentos”. Assim é no poema a “Casa dos nomes”. Indaga-se, inicialmente, pela Casa Amarela e a resposta é que tal casa, ao iniciar o seu processo de desmoronamento, arrasta consigo a infância, e os próprios nomes se dispersam pela casa em ruínas. Podemos “’escorar’ essas ruínas” (Eliot), mas nada impedirá o desabamento das paredes de suas salas, de seus alpendres, de seus quartos, dispensas e outros lugares onde são guardados — simbolicamente, é claro — velhos objetos, leitos desmontados, velhas arcas, ecos de vozes apagadas, garrafas vazias, faltando apenas a velha rameira de que nos fala Yeats, a que conta as moedas e guarda em sua caixa preta, dando-nos, assim, uma vaga e válida imagem do inconsciente, tal como lemos numa das estrofes de “A deserção dos animais do circo”. O processo pelo qual registramos a nossa vida é lento, mas tem um duplo efeito: o efeito Letes-Eunoè, esquecimento vs. lembrança, horror vs. beleza, morte vs. renascimento, porque a memória permanece no tempo e sempre vê de pé a casa demolida. O que procura Carlos Nejar é aproximar de sua experiência a experiência do leitor. A leitura de poemas exige tranquilidade e fortalecida consciência de que a língua poética não é a língua da comunicação. Para mim, não seria difícil falar sobre a experiência da casa em ruínas. A que nasci era uma casa grande, com oito quartos, no sertão dos Inhamuns: o quarto escuro — o dos morcegos — o quarto dos pesadelos. O quarto do anjo degolado, onde se guardava o ossuário da família em grande urna de mármore italiano. O quarto de Anna Angélica e de Anna Aurora. Não conheci essas tias-bisavós, mas sempre as vi em sonhos. A força do poeta está em saber como aproximar tais experiências das experiências do leitor, pois afinal todos tiveram suas casas, todos recordam seus tios, o carinho dos avós, enfim, “as afeições domésticas”, diria Alfredo Antunes ao escrever sobre o sentimento de “saudade” em Fernando Pessoa. Ou como ao recordar a casa, desfila diante de nós a vida, tal como nos mostra um dos mais belos poemas de Emílio Moura: “A casa”.
É por essas e outras razões, que devemos resistir, como faz Carlos Nejar, às teses do fim da arte, do fim da poesia. Como ele diz:
A casa ia ruindo
com o rigor dos anos
o ruído
rancoroso dos canos,
o ruído plangente
do sótão
e dos nomes.
São manifestações existenciais, algo situado na área fenomenológica, e utilizo o termo na acepção que lhe foi dada por Lambert, o seu criador. A linguagem de Carlos Nejar, em Os Viventes não é a expressão de um temperamento romântico, quando fala em Mafalda, Paulo, Sadi. “Onde Paulo, o Sadi?” — indaga e ele próprio responde: “estão correndo / e era o pátio / com os curvos pessegueiros”. Cristina, Graça, Mira, a Rosa sobre o ventre das janelas verdes, palavras suficientes, necessárias, não excessivas, pois quando se usa a linguagem com precisão ela nunca é excesso. A economia da linguagem não engrandece a língua. É antes um maneirismo, já que não enriquece o idioma como sistema social nem como língua poética. É por isso que se deve recordar Murilo Mendes, um latifundiário de palavras. Palavras produtivas, como produtiva é a palavra em todo poeta forte. Não esqueçam Shakespeare, que usava demasiadamente as palavras, nem Malherbe, que as economizava em demasia. Façam uma reflexão sobre os dois e digam — não é preciso indagar ninguém — quem foi o vencedor. A língua criadora de “monumentos” é rica em palavras, símbolos e alegorias, como em Dante, ou plena de imagens e metáforas, como em Shakespeare. Quem mais contribuiu para a grandeza da língua inglesa no século XVII foi Shakespeare, porque a usou como se fosse a correnteza de um imenso rio de imagens e de metáforas. Engana-se quem diz que Dante foi econômico no uso da linguagem. Como, se foi ele quem mobilizou todas as palavras, todos os dialetos, todos os recursos que lhe possibilitaram criar um novo idioma, em uma época em que o latim, era por ele próprio, considerado uma língua criada por sábios? Ao falar sobre “Ofícios terrestres e divinos”, Nejar põe na boca de Samuel estas palavras:
Além de mim,
Prosseguirão plantando.
Prosseguirão nogueiras e planetas.
E gerações.
Ou ainda, como na parte V — “Baldeações” — ao dizer:
A senha é a porta. Não haverá outra.
O tempo está posto
nos remos.
Essa magia de linguagem, de que Rimbaud foi um dos mais altos representantes, constitui o núcleo da poesia da modernidade. A modernidade, cujo fim já anunciado por tantos, continua muito viva. E vai durar muito tempo, justamente por ser um conceito temporal. Mas, talvez, se justifiquem outros conceitos. A baixa-modernidade, termo proposto por Eduardo Portella, para denominar o que chamamos “pós-moderno”, torna-se um conceito operacional importante porque proporciona ao poeta, ao pintor, ao compositor, algo que não elimina a ideia de modernidade, já que um “pós” isto ou “pós” aquilo não significa coisa alguma. Todos os “pós” nos conduz ao teorema do Nada. Ou, então, fale-se de ultramodernidade, termo proposto pelo jovem filósofo francês Luc Ferry, do Ministério da Educação da França, professor na Universidade de Caen. Pelo caminho de Os Viventes transitam Adão, com o conhecimento do Mal, Abel, qual ovelha muda em voo para Deus, ou Paulo que viu o primeiro céu com seu rio de fogo. E se literatura se faz com literatura, então falem os poetas:
Humano amor celeste,
cuja voz não confundo
e ao pulsar, pulso junto.
E tal um vinho em flor
borbulha no odre surdo,
o som de seu amor
com a eternidade escuto.
Assim, é preciso voltar à “Casa dos nomes” e lembrar a flor, a flor não como o índice de uma ideia renascentista, neoclássica ou romântica flor azul, cor da flor de Novalis: a flor como símbolo, como símbolo ou imagem restante, continuada, que podemos ver se afastando, a flor em um muro de vento, a usura das horas, metonímico de tempo, a cinza. Coração febril da infância. A flor em Carlos Nejar perde o significado tradicional para ser muro de vento palpitante, a secura do tempo, o pó. As fotografias dos avós descolorem. A lonjura dos olhos e das roupas.
Caladas laranjas
junto ao sangue
a casa
murcha.
As imagens não buscam semelhanças a serem alcançadas, ou reconhecidas por sugestão. O que faz Nejar é ampliar a noção de “visibilidade” do real. Tudo o que ele diz une aquelas duas experiências antes citadas, de forma a que autor/leitor caminhem juntos na compreensão e interpretação do poema. Mas o conhecimento dessa linguagem não é tão fácil, quando somos convocados a dar respostas a indagações como esta: “Que distância, pai, entre a casa e a rua?”
Há nessa pergunta uma suspensão do pensamento, uma atmosfera vaga, imprecisa, já que o verso “se foi desmoronada”, não é o que se espera da indagação “Que distância, pai, entre a casa e a rua?” É uma situação mais apropriada à análise das artes plásticas. Não é só a casa que desmorona. Também a rua pode desaparecer, dando lugar a uma praça, um mercado, uma escola, um asilo, ou algo que representa ameaça à vida dos vizinhos, por exemplo, um quartel. O poeta procura romper não só com a ideia de ritmo, equilíbrio, unidade, mas também com a lógica do pensamento, tal como não a reconheceria a linguagem da comunicação, para dar lugar à expressão idiomática, poética, portanto. O poema intitula-se a “Casa dos nomes”. E se os nomes não tivessem tanto importância em poesia, o poema de Dante, tão clássico e tão moderno, escrito com os nomes de pessoas que efetivamente tiveram vida histórica, aos quais se associaram alguns mitos, que, afinal, como nos ensina o poeta do Ulisses — Homero — , são “nada” e são “tudo”. A força das alusões e o poder de associação, também presentes, quando fala dos avós Georgina e Antônio Miguel, deitados, à semelhança dos personagens de “Evocação do Recife” de Manuel Bandeira, ambos dormindo profundamente. Suas fotografias, ao perderem a cor, aludem à viagem no tempo, marcando a distância dos olhos e das roupas descoloridas. Caladas laranjas junto ao sangue, imagens de surpreendente modernidade, ao menos para aqueles que leem a poesia mundial — que deve ser lida diariamente.
Assim, tanto o leitor comum quanto os críticos especializados terão a seu alcance referenciais seguros, ao avaliar a importância dos poemas escritos no Brasil, país onde se escreve boa poesia. E para o seu prazer — do leitor e do crítico — ao ler os mil estilos de poesia que se escreve no mundo, não busquem louvar, apenas por capricho ou má consciência, apenas o lixo que se escreve em língua portuguesa com o nome de “poesia”, às vezes inspirada na filosofia do nada, em um contexto cultural onde se cultiva tão pouco a filosofia da arte. A tal ponto que, em breve, sistematizaremos tal filosofia e acabaremos formando doutores em Teorema do Nada. No Brasil, não há sentimentos fraternais entre poetas e críticos, mas apenas idiossincrasias, que anulam reciprocamente os melhores valores de nossa literatura, ficando as obras literárias entregues a colunistas preconceituosos, despreparados, a serviço exclusivo de grupos sectários, além de verdadeiros “Guardas de Sião” das editoras, como os denominavam o grande Ernst Robert Curtius. É tal espírito que Antero de Quental viu na poesia portuguesa em suas Conferências no Cassino Lisboense, ao mostrar o “quadro de insignificância” a que chegaram Portugal e Espanha entre os séculos XVII e o século XIX. “Saímos de uma sociedade de homens vivos, movendo-se ao ar livre; entramos num recinto sepulcral, com uma atmosfera turva pelo pó de livros velhos, e habitado por espectros de doutores”, dizia ele, acusando a poesia portuguesa de haver se transformado em mera cópia do passado, interessada apenas em traduções e sem nenhum espírito inventivo. Claro que precisamos de traduções. Todavia, mais importante é a criação de obras sérias e não “brincos de crianças” de que falava Quental em seus discursos no Cassino. Tal espírito — o espírito inventivo — era considerado um perigo pelos autores da época. Por isso, o poeta de Os Viventes, diz:
Pode o coração
correr com a lua
e sair aos tropeções
da morte?
Tal é o clima dos legítimos afetos, quando dois grandes inovadores, Marino e Góngora, ambos impõem a italianos e espanhóis, e depois ao mundo, uma visão renovada do modo de ver e estruturar a ponte que vai ligar o clássico e o barroco, continuando cada um com seu engenho, sua agudeza e sua arte. É assim que vejo a “Casa dos nomes”, em Os Viventes. Uma obra in progress, como diriam os ingleses.
César Leal
César Leal (1924–2013) foi um jornalista, crítico literário e poeta brasileiro.

Adquiria a nova e definitiva edição de Os Viventes:
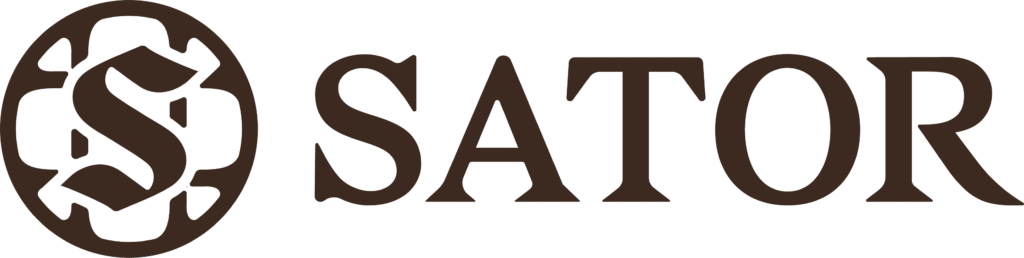
Deixe um comentário