As almas que se quebram no chão, de Karleno Bocarro, é um romance ambientado na Berlim Oriental dos últimos suspiros da Guerra Fria. A cidade, ainda marcada pela divisão ideológica e pela decadência do regime socialista, serve como pano de fundo para uma narrativa que acompanha jovens brasileiros em processo de desintegração pessoal e simbólica. O protagonista, Marco Dilthey, chega à Alemanha como bolsista da Universidade Humboldt, mas rapidamente se vê tragado por um ambiente que não oferece respostas — apenas ruínas. A escolha do sobrenome “Dilthey” parece deliberada: Wilhelm Dilthey, filósofo alemão do século XIX, foi um pensador da experiência vivida e da hermenêutica existencial. Marco, por sua vez, é um personagem que não interpreta — ele se perde. Sua trajetória é marcada por uma busca obsessiva por mulheres que parecem encarnar uma promessa de sentido, mas que o empurram ainda mais fundo na frustração e na autossabotagem. Ele se vê lançado num cenário de ruínas ideológicas e existenciais. A cidade, que já foi símbolo de divisão e depois de promessa de unificação, aqui se torna palco de uma implosão silenciosa: não a dos regimes, mas a das almas.
Ao lado de Marco, surgem figuras que ampliam o espectro da degradação e da inquietação. Barad, por exemplo, é o personagem mais filosófico da trama. Seguidor de Nietzsche, ele tenta usar a filosofia como escudo contra o caos, como se a razão pudesse dar conta da dissolução que o cerca. É o mais sério, o mais disciplinado, e talvez por isso o mais trágico. Sua presença levanta uma questão central do romance: pode a filosofia — especialmente a nietzschiana — oferecer sustentação diante da falência dos sistemas políticos e das estruturas de sentido? Bocarro não responde diretamente, mas deixa pistas suficientes para que o leitor reflita sobre o alcance e os limites da razão diante do abismo.
Já Bocas é outra coisa. Ele encarna o excesso, a crueldade, a pulsão destrutiva. Não é apenas um agente do caos — é o próprio caos em movimento. Sua presença na narrativa serve como contraponto à hesitação de Marco e à seriedade de Barad. Bocas não hesita, não pondera, não busca sentido. Ele age, e sua ação é sempre corrosiva. É um personagem que parece saído de um pesadelo beatnik, com ecos de Céline e Burroughs, e que representa o lado mais sombrio da juventude perdida que o romance retrata.
A força do livro está justamente na forma como Bocarro constrói esse mosaico de almas em colapso. A escrita é intensa, por vezes violenta, e não se furta a mergulhar nos aspectos mais desconfortáveis da experiência humana. Há ecos de Memórias do subsolo, de Dostoiévski, e de A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera, mas também há uma pulsação própria, uma linguagem que não se acomoda.
Bocarro não oferece personagens heroicos. Seus protagonistas são títeres das circunstâncias, como diria Kundera, e não há leveza alguma em suas quedas. Marco e os que o cercam não buscam redenção — buscam distração. Drogas, sexo, literatura, música: tudo é usado como escudo contra o real, mas nenhum escudo é suficientemente espesso. O romance não se constrói em torno de grandes eventos, mas de pequenas desistências. É um livro sobre projetos que não se concluem, sobre ambições que se desfazem antes mesmo de serem formuladas com clareza. Há ecos de Memórias do subsolo, de Dostoiévski, na forma como os personagens se sabotam e se refugiam em sua própria miséria — não por prazer, mas por hábito.
A escrita aqui é densa, mas não hermética. O autor sabe dosar o peso das ideias com o ritmo da narrativa, e mesmo quando mergulha em reflexões filosóficas ou culturais, não perde o fio da história. Há momentos em que a prosa se aproxima da crônica urbana, e outros em que se torna quase ensaística — especialmente ao tratar da Berlim pós-muro como metáfora de um mundo em transição. A cidade não é apenas cenário, mas personagem: cindida, esvaziada, e ainda assim pulsante.
O romance não oferece redenção, nem esperança fácil. O livro acerta ao não tentar explicar demais. Ele não concede respostas fáceis, nem soluções narrativas redentoras. E talvez esse seja seu maior mérito: escancarar o hedonismo feio, o sub-intelectualismo travestido de busca estética, e a covardia diante do embate com a vida. Mas também há beleza nisso — não a beleza da superação, mas a da honestidade brutal.
É um retrato cru de uma geração que não encontrou lugar nem no socialismo moribundo nem no capitalismo triunfante — e que, por isso, se refugia em vícios, devaneios e pequenas misérias.
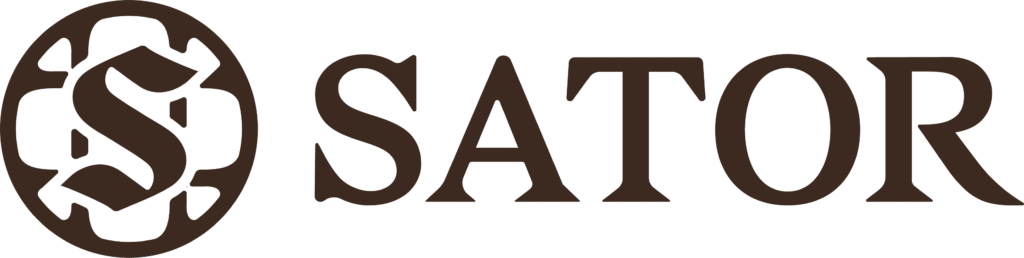
Deixe um comentário